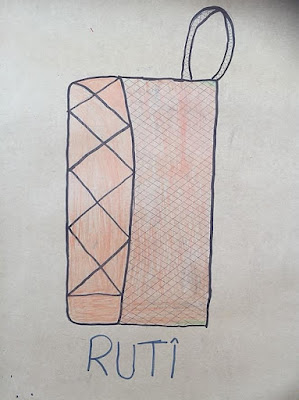USP assina acordo com associações indígenas
para colaborar em escolas no Amazonas
Acordo de cooperação é resultado de 14 anos de parceria entre Faculdade
de Educação e povos baniwa-koripako, da região do Rio Negro; atividades servirão
à formação docente, assessoria local em política educacional e produção de novos
conhecimentos de base intercultural
A Faculdade de Educação (FE) da USP celebrou um termo de cooperação
técnica, não com universidades, mas com dois órgãos indígenas sediados em São Gabriel
da Cachoeira, no estado do Amazonas. Trata-se da Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro (Foirn) e da Organização Baniwa e Koripako Nadzoeri – integrante da
Foirn e responsável pelo Içana, território dos povos baniwa-koripako na região do
Rio Negro. O foco da cooperação são ações de educação escolar indígena nessa região
do Brasil.
Publicado no Diário Oficial em 2 de setembro de 2022, o acordo foi idealizado
pelas associações indígenas em parceria com o Centro Universitário de Investigações
em Inovação, Reforma e Mudança Educacional (Ceunir), da FE. Prevendo intercâmbios
com docentes, pesquisadores, estudantes, técnicos e líderes das três entidades,
o acordo também propõe ações conjuntas de pesquisa, ensino e extensão. Essas atividades
servirão à formação docente, à assessoria local em política educacional e à produção
de novos conhecimentos de base intercultural, em colaboração com as comunidades
federadas à Nadzoeri e à Foirn.
Para o professor Elie Ghanem, coordenador do Ceunir, a importância da
iniciativa é dupla. “Além de estender a capacidade de atuação da Feusp para fazer
interlocuções, extensão e pesquisa no Alto Rio Negro brasileiro, traz para a atenção
da faculdade a riqueza e atualidade dos conhecimentos, problemas e inovações que
se podem encontrar nas escolas indígenas contemporâneas – objetos de atenção crescente
nas mais diversas áreas de pesquisa científica”, afirma. Além disso, o professor
ressaltou que “enquanto a cooperação acadêmica costuma se limitar aos arranjos entre
instituições de educação superior, a parceria da FE com a Foirn e a Nadzoeri intensifica
relações entre a USP e as organizações da sociedade civil, beneficiando uma rede
com dezenas de escolas indígenas municipais e estaduais”.
O acordo tem duração de cinco anos, podendo ser renovado. “[O ato] reflete
a intenção de uma parceria científica duradoura com esses grupos indígenas, já que
as relações de colaboração que o documento reconhece foram impulsionadas – e impulsionaram
– linhas de pesquisas em Educação Escolar Indígena”.
Trabalho de campo em 2018 na Escola Baniwa
Eeno Hiepole, comunidade Canadá, bacia do Içana. Ao centro, em pé: Diana Pellegrini,
Elie Ghanem e Antônio Góes Neto, pesquisadores do Ceunir. Ao centro, ajoelhado,
Nelson Thomé Baniwa, então coordenador da escola, acompanhado dos colegas docentes
e de estudantes do ensino médio - Foto: Arquivo Ceunir
Parceria formalizada
São Gabriel da Cachoeira, já alcunhada “a cidade mais indígena do Brasil”,
situa-se no extremo noroeste do Amazonas (na região apelidada Cabeça do Cachorro)
e faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. É o município de referência da chamada
área etnográfica do Alto Rio Negro. Ali, vivem mais de 20 etnias e falam-se 19 línguas,
num complexo sistema regional. Essa variedade de povos configura redes ancestrais
de relações e trocas culturais, econômicas, matrimoniais, linguísticas, ecológicas,
sociais e cosmológicas.
A colaboração da FE com órgãos indígenas e indigenistas de São Gabriel
em temas de educação escolar e política educacional remonta a 2008, quando o professor
Elie Ghanem, hoje coordenador do Ceunir, prestou assessoria à elaboração do Plano
Municipal de Educação local. De acordo com informações do centro, havia intenso
e qualificado apoio da prefeitura e de parceiros nacionais e internacionais para
a criação de projetos escolares experimentais. Na época, a discussão se dava em
nível comunitário para que os projetos fossem implantados nas escolas – todas indígenas
– da ampla rede pública municipal. Essa experiência, com seus sucessos, dificuldades
e transformações, veio a se tornar emblemática entre os casos-modelo da chamada
“educação escolar indígena diferenciada”, bandeira reivindicada pelos grupos originários
desde a Constituição de 1988.
Seguiram-se, a partir de 2011, pesquisas coordenadas por Ghanem, com
fomento da Fapesp e do CNPq, das quais resultaram as primeiras dissertações, teses
e artigos produzidos na convivência com escolas e comunidades kotiria, tuyuka, baniwa-koripako.
O mais recente ciclo, realizado entre 2018 e 2021, destinado a identificar atores
e condições-chave na seleção dos saberes a ensinar, envolveu cinco escolas baniwa-koripako
do rio Içana e afluentes, além de ampliar comparações para escolas guarani de São
Paulo e guarani-kaiowá, do Mato Grosso.
“As conversações levaram ao todo cinco anos. Os trâmites foram reanimados
depois que se atravessaram os períodos mais difíceis da pandemia no Amazonas e em
São Paulo. À distância, os laços se fortaleceram no enfrentamento solidário da crise
e no luto diante da perda de eminentes lideranças do rio Negro pela covid-19, como
foi o caso do diretor da Foirn Isaías Fontes, baniwa, que estivera presente e ativo
nas reuniões preliminares sobre a cooperação”, afirmam os pesquisadores do Ceunir.
Desenvolvimento Sustentável
Depois da publicação no Diário Oficial, as entidades inauguraram uma
agenda de diálogo para detalhar os planos de ação de forma participativa. As partes
devem buscar juntas fontes diversas para custear as atividades.
“Essa parceria tem a perspectiva de subsidiar e fortalecer a implementação
de ações dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental dentro do território indígena,
visando sempre o desenvolvimento territorial sustentável indígena, como parte da
política nacional”, afirma o professor baniwa Juvêncio “Dzoodzo” Cardoso, coordenador
da Nadzoeri. Ele se refere à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
(PGTA) de Terras Indígenas, instituída pelo Decreto nº 7.747/2012. O primeiro PGTA
dos Baniwa-Koripako, começado em 2015, foi concluído e publicado em 2021 e confere
uma importância estratégica à educação escolar.
Cardoso lembra que o acordo surge de uma antiga e cuidadosa caminhada
conjunta. “Todo esse processo de construção está de acordo com os nossos protocolos
de consulta, respeitando as convenções da Organização Internacional do Trabalho
e a consulta livre e esclarecida. Essa parceria resulta de um longo processo, e
o mais importante é que ela vem pela demanda da Nadzoeri. Já existe um histórico
de envolvimento”, lembra.
Próximos Passos
A jovem comunicadora baniwa Lainice Cardoso, de 13 anos, estudante do
8º ano na Escola Baniwa Eeno Hiepole – situada na comunidade Canadá, no remoto rio
Ayari, afluente do Içana –, publicou fotos da assinatura do Termo de Cooperação
nas redes sociais: “Os estudantes e professores da Escola Baniwa Eeno Hiepole comemoram
o momento de assinatura do Termo de Cooperação Técnica e estão confiantes e esperançosos
com essa construção de parceria. Estamos assim fazendo e marcando um novo momento
na história da Educação Escolar Baniwa e Koripako, junto com os demais 23 povos
indígenas do Alto Rio Negro”, escreveu.
O próximo marco deste desafio será o sexto FNEEI (Fórum Nacional de
Educação Escolar Indígena), que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro em Brasília,
e entregará à equipe de transição do governo Lula suas reivindicações para as escolas
indígenas diferenciadas. “Será a oportunidade de recuperar os recentes retrocessos,
reconstruir e consolidar direitos, ouvindo as diferentes vozes do movimento indígena
contemporâneo. Eventos como o Fórum expressam o grande empoderamento do movimento
dos professores, lideranças e comunidades indígenas, que atualizam suas reivindicações
e direitos educacionais, cada vez mais fortalecidos e instrumentados para uma interlocução
qualificada com os poderes públicos e outros atores institucionais”, afirmam os
pesquisadores do Ceunir.
“Para nós, é um privilégio e um constante aprendizado trabalhar nessa
perspectiva fortemente participativa das parcerias com a Foirn e a Nadzoeri, porque
os processos de consulta ampliada na formatação dos projetos só enriquecem tanto
as vivências quanto o conhecimento produzido”, destaca Ghanem. Ele afirma que projetos
de futuro nesta região elevam o desafio de produzir resultados científicos, institucionais
e educacionais relevantes para essas populações.
Em São Gabriel, a iniciativa pretende lançar convites a professores,
estudantes, lideranças, gestores educacionais, entidades parceiras, docentes universitários
e pesquisadores. A ideia é desenvolver atividades que criem, com as redes locais
de atores educacionais, espaços plurais de diálogo, estudo, qualificação profissional
e debate científico e social.
Ceunir
Criado em 2015, o Centro Universitário de Investigações em Inovação,
Reforma e Mudança Educacional (Ceunir), da FE, constituiu as linhas de ação e a
rede de pesquisadores em um processo colaborativo. Em sua forma atual, o grupo tem
mais duas linhas de investigação, além da Educação Escolar Indígena: as pesquisas
em Educação e Direitos Humanos, e em Tendências em Inovação Educacional.
Os trabalhos de campo do Ceunir envolvem a prestação de assessoria a
equipes escolares, bem como oficinas com docentes, lideranças, estudantes e outros
públicos. As atividades são planejadas processualmente, em conjunto com os grupos
locais. Essa abordagem, ao mesmo tempo em que fornece uma contrapartida mais direta
à colaboração das comunidades nas investigações, cria novas chances de convivência,
de compreensão, de observação participante e de coleta de informação.
Saiba mais: https://www4.fe.usp.br
Tabita Said com informações de Diana Pellegrini e Elie Ghanem
28 de novembro de 2022.